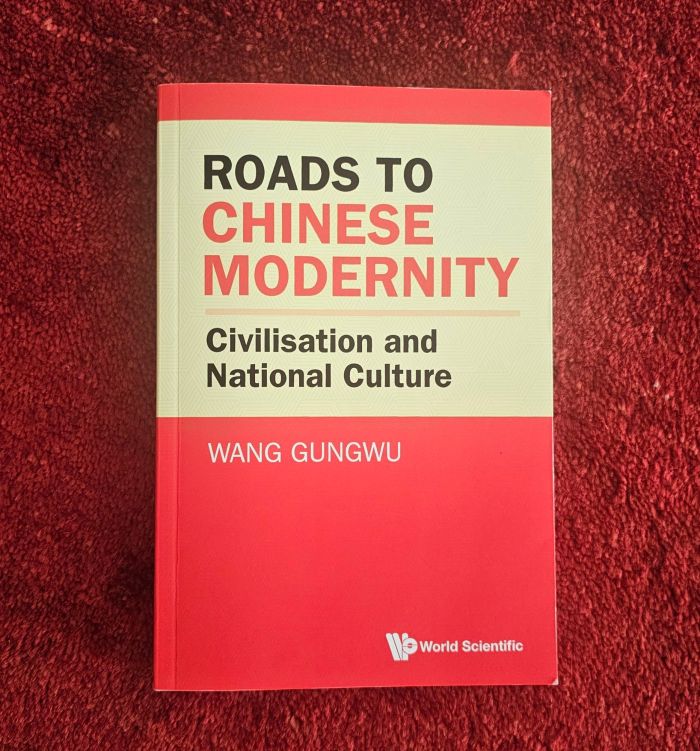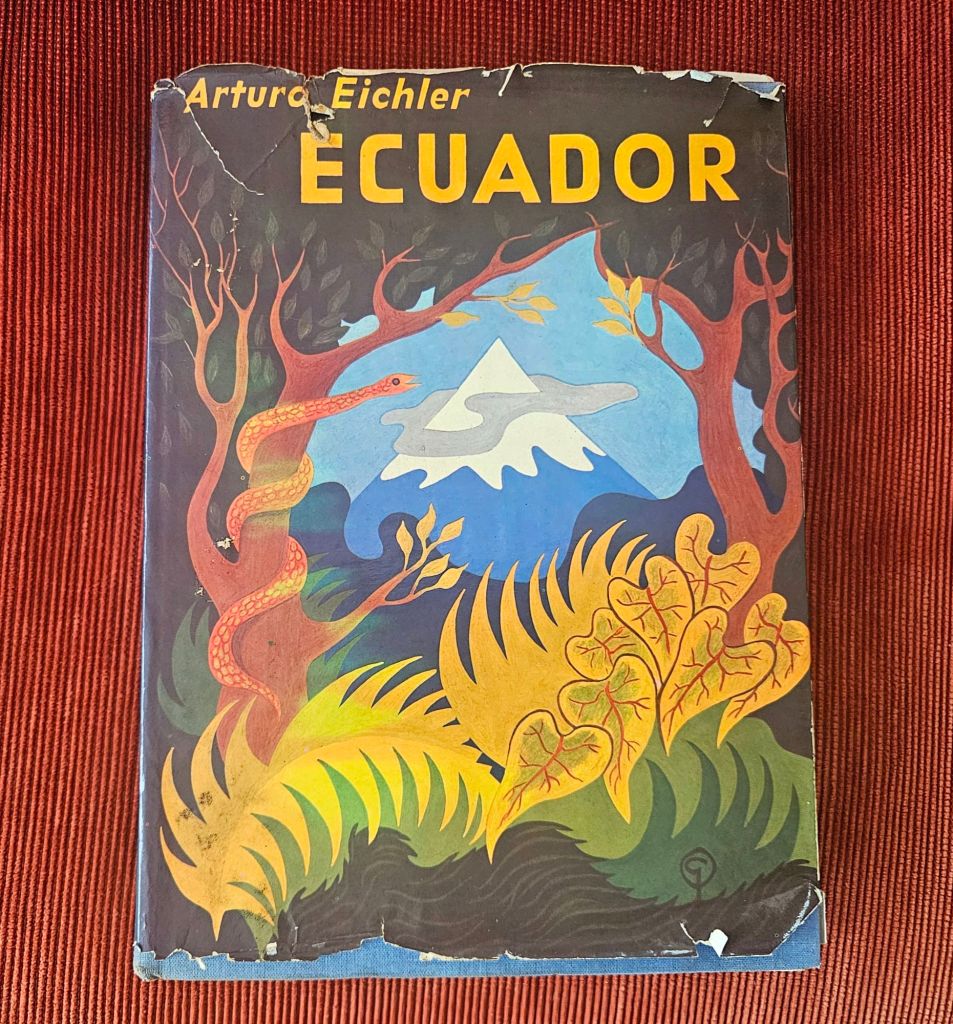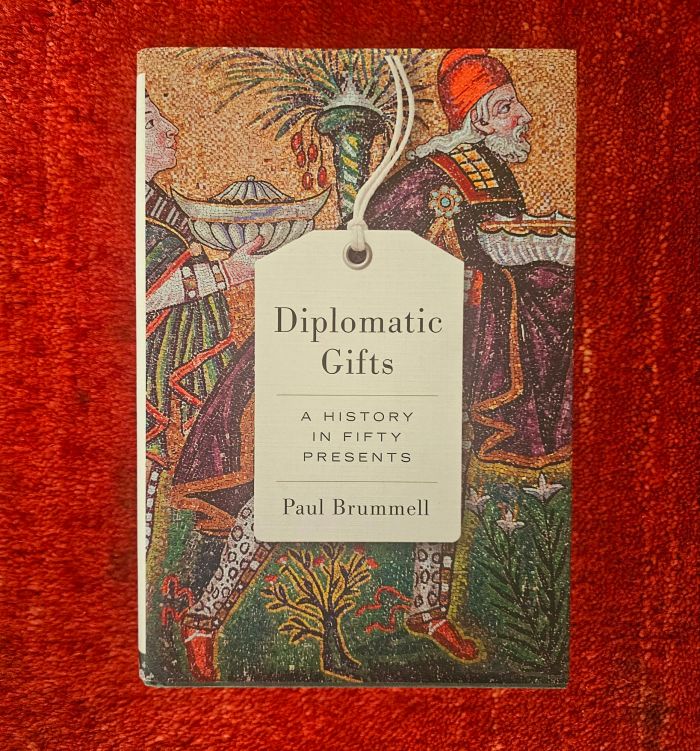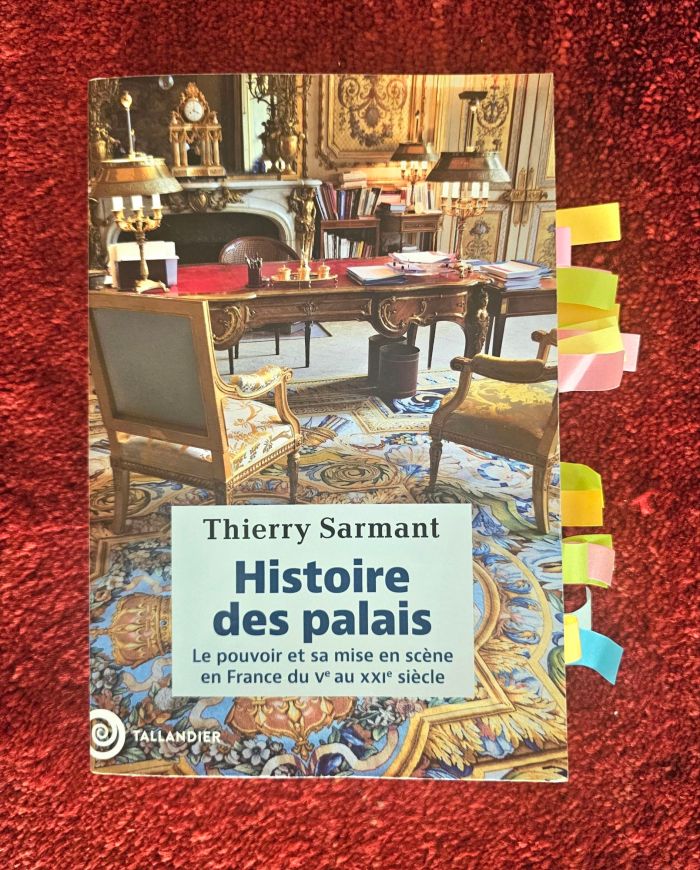Em maio, viajando de Angola ao Brasil, assisti no avião ao filme americano Crazy Rich Asians, dirigido por Jon M. Chu. Era a primeira vez que o revia desde 2018, ano de seu lançamento, quando minha mulher e eu o vimos em Brasília, no cinema.
No Brasil, o título foi traduzido para Podres de ricos, o que não me parece uma escolha feliz. Passa uma ideia de leviandade, enquanto que o filme, divertido e leve como é — pode ser entendido, por quem assim quiser, como uma versão moderna, transplantada para a Ásia, do conto da Cinderela — trata, subliminarmente, de um tema sério, a força econômica do Sudeste Asiático.
O filme é extraído de um romance de Kevin Kwan, autor nascido em Singapura, como seus personagens; como seus personagens, de origem chinesa; e naturalizado americano. O verbete sobre ele na Wikipedia melindrará autores brasileiros. Recomendo que não o leiam, a não ser como exercício de masoquismo. Todos os livros de Kevin Kwan são campões de vendas; todos parecem destinados a virar filmes hollywoodianos. Tudo isso significa dinheiro, muito dinheiro. Significa sucesso, muito sucesso.
Em 2018, minha mulher nunca havia viajado à Ásia; eu, por razões de trabalho, lá estivera algumas vezes, sobretudo desde 2016, mas não no Sudeste Asiático. Quando terminou a sessão, julgamos que Crazy Rich Asians, fora a questão do padrão de vida exorbitante da maioria dos personagens, nos provara, de uma maneira mais impactante do que qualquer livro sobre economia ou relações internacionais conseguiria, a realidade sabida mas nunca antes tão fortemente visualizada do dinamismo do Sudeste Asiático. Presenciáramos no cinema a firme evolução daquela região como um dos centros mundiais do poder econômico e comercial.
Um detalhe sutil chamou minha atenção já em 2018. Trata-se de um filme americano, distribuído por estúdio americano, mas onde os personagens ocidentais são figurantes que transitam pela tela de relance. Se olharmos um segundo para o balde de pipoca no nosso colo, perderemos os raros momentos em que a câmera os mostrou rapidamente. Os ocidentais, nas cenas em Singapura, são apenas prestadores de serviço para os asiáticos. Não participam da trama.
Somente na primeira cena do filme, em Londres, cerca de vinte anos antes da ação principal, figuras ocidentais aparecem e têm falas próprias. Isso acontece, porém, para mostrar o seu ridículo. Empregados brancos e mesquinhos de um hotel destratam e humilham, por preconceito racial, a bilionária singapurense que lá deseja se hospedar. Na mesma hora, de Singapura, o marido compra o estabelecimento para vingar a mulher. A bilionária, que mais tarde se tornará a sogra em potencial da heroína e também sua antagonista, é interpretada pela cativante atriz malásia Michelle Yeoh. Por trás do humor da cena, esse momento inicial é profundamente político e carregado de simbologia. Ilustra a ascensão da Ásia e a decadência do Ocidente.
Ao assistir a Crazy Rich Asians em 2018, minha mulher e eu não sabíamos ainda que, no ano seguinte, pediríamos para trabalhar no Sudeste Asiático, ela em Singapura e eu em Kuala Lumpur, e que chegaríamos aos dois postos no início de 2020. Rever o filme no avião, em maio de 2025, depois de cinco anos na Malásia, de onde eu partira apenas três meses antes, proporcionou uma experiência mais rica.
Em diferentes momentos dos meus cinco anos no Sudeste Asiático conversei, na Malásia e em Singapura, com ao menos quatro dos atores de Crazy Rich Asians. Inclusive, em 2023, com a própria Michelle Yeoh, quando visitou Kuala Lumpur depois de ganhar seu Oscar. Ao rever o filme, percebi sotaques, formas de falar, expressões corporais que observei muitas vezes nos dois países.
No avião, reconheci locações. É uma história singapurense, mas muitos cenários de filmagem se encontram na verdade na Malásia. Como exemplo, direi que o “bar em Nova York” onde o casal protagonista decide viajar a Singapura é na verdade um restaurante em Kuala Lumpur, em frente ao prédio onde morei. Em uma coluna nestas páginas, Tempos de incerteza, escrita ainda em Kuala Lumpur, mencionei que, em um sábado de janeiro, eu fizera uma palestra intitulada “BRICS e ASEAN: Liderança Global de Brasil e Malásia em Tempos de Incerteza”. Cheguei ao instituto onde aconteceria minha apresentação vindo diretamente desse restaurante, onde almocei tantas vezes.
Assistindo ao filme, que é uma sátira, achamos graça nos excessos dos bilionários asiáticos. As risadas tornam fácil obliterar as verdades políticas, comerciais e econômicas que ele escancara. Por mais que seja repetida, é naturalmente difícil para brasileiros que nunca estiveram no Sudeste Asiático assimilar esta verdade: alguns dos países da região, notadamente Singapura e Malásia, são hoje destinos mais importantes para as exportações do Brasil do que a maioria dos países da União Europeia ou da América do Sul. Politicamente, é no Sudeste Asiático que é sentido mais nitidamente o sentimento de rivalidade dos Estados Unidos em relação à China.
Foi um privilégio trabalhar, até poucos meses atrás, para o estreitamento dos laços entre o Brasil e a Malásia e a Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. O ano de 2024 foi particularmente rico para esse fim e sobre isso já falei aqui mesmo no Estado de Minas, em O ponto de inflexão.
A Malásia é hoje uma nação próspera, prestes a se tornar um país de alta renda e que compartilha muitas das posições defendidas pelo Brasil. É esse o país que o presidente Lula descobrirá ao desembarcar em Kuala Lumpur, no final de outubro, para ser o primeiro chefe de Estado brasileiro a participar de uma cúpula da ASEAN. Um país onde o Brasil é hoje particularmente querido e admirado.

A Mansão azul, em Penang, Malásia, cenário do jogo de mahjong em Singapura entre sogra e nora
Esta coluna foi publicada no Estado de Minas ontem, 11 de outubro.
Para ler minhas colunas anteriores no Estado de Minas, clique nos links abaixo:
Cem anos na Ásia do Leste, 27 de setembro
O delírio do Chimborazo, 13 de setembro
O diplomata robô, 30 de agosto
Botas diplomáticas, 17 de agosto
O embaixador decapitado, 2 de agosto
O espaço do diplomata, 19 de julho
Cenários do poder, 5 de julho
Memória diplomática, 21 de junho
Batuque na cozinha, 7 de junho
Um Brasil consciente e forte, 24 de maio
Retrato de família, 10 de maio
Benção apostólica, 26 de abril
O presente malásio, 12 de abril
Eterna cobiça, 29 de março
Grandes diplomatas, 15 de março
Consternação europeia, 1º de março
Da Pampulha para Kuala Lumpur, 15 de fevereiro
Tempos de incerteza, 1º de fevereiro
O ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Malásia, 18 de janeiro