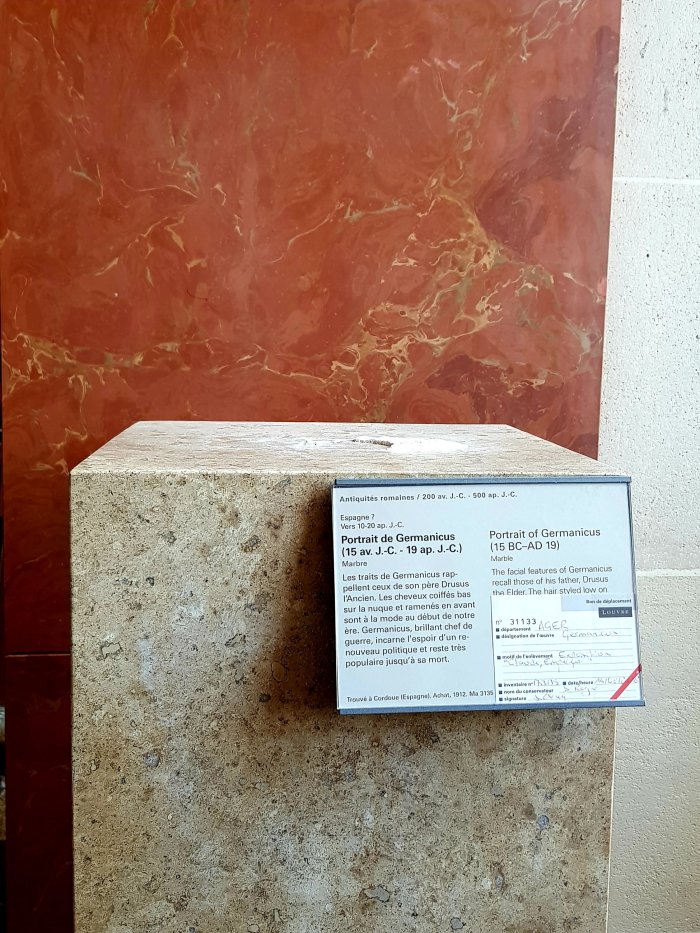Em setembro, no último sábado de verão, eu estava de férias em Paris. Fazia calor e o sol brilhava. Minha filha e o namorado tinham vindo, de Bruxelas, passar o fim de semana comigo. Depois de visitar a exposição Bacon en toutes lettres no Beaubourg, caminhamos pelo Marais. A exposição havia sido uma decepção. Seu objetivo, mostrar como a obra de alguns autores prediletos de Francis Bacon influenciara sua pintura, era ambicioso e não fora concretizado. Na rua, eu nunca vira tanta gente. Havia ao meu redor um clima de alegria, criando contraste com as figuras atormentadas na pintura de Bacon.
De repente, minha filha parou frente a uma vitrine. Logo depois, o namorado e eu entrávamos atrás dela na loja, um corredor comprido. O nome do lugar era À Rebours, pertencente, notei, à fundação cultural Lafayette Anticipations, mantida pelo grupo que controla as Galeries Lafayette.
Olhei à minha volta, surpreso. O recinto continha, em um cabide pendurado no teto, uma enorme camisa de homem, costurada como uma colcha de retalhos, com tecidos de diferentes cores; em um canto, um pufe branco com desenho preto representando talvez um ser humano; em um balcão, algumas bijuterias; em outros balcões, vasos e potes de vidro e de cerâmica. Não sei se havia muito mais do que isso. O ambiente era elegante, mas eu não entendia o que a loja vendia. Perguntei à minha filha onde estávamos. Ela respondeu: “Em uma concept store”. É bem provável que eu jamais tivesse antes ouvido o termo. Vendo meu ar de incompreensão, ela emendou: “Papai, você entra em uma concept store para entender a ideia de quem a organizou, captar uma tendência, não para comprar alguma coisa”. Fui salvo pelo meu olhar que, distraído, percebeu em uma parede uma estante de madeira muito clara onde havia livros. Aproximei-me. Com uma exceção, eram volumes sobre artistas, viagens, natureza, decoração.
A exceção era um romance de 142 páginas, intitulado Dans la forêt du hameau de Hardt, com uma capa sedutora, de fundo branco, na qual folhas — de que apenas o contorno era verde — encobriam em parte as letras do título. Havia sido lançado em janeiro.
Nem o autor, Grégory Le Floch, nem a editora, Éditions de l’Ogre, diziam-me qualquer coisa. Enquanto minha filha e o namorado, mergulhados em seu universo a dois, dialogando, examinavam objetos de cerâmica, folheei o livro. Rapidamente, ele capturou minha imaginação. Havia um mistério, a morte de um personagem. Havia alguém em crise emocional. O estilo era peculiar e cativante. Quis comprá-lo. Preconceitos arcaicos, porém, apoderaram-se de mim. Aquilo não era uma livraria; portanto, livros vendidos ali não podiam ser levados a sério. Não me ocorreu pensar que eu não entendia o conceito de concept store e que, possivelmente, a presença do livro dava a ambos, loja e romance, uma aura adicional. O próprio nome da loja, aliás, é uma referência literária, mas o romance de Huysmans marcou-me pouco quando o li na adolescência.
Saímos. Prosseguimos com nosso passeio. No domingo, acordei pensando nas linhas que eu lera na véspera, em uma ou outra página do romance. Durante o dia, e também na segunda-feira, tentei comprá-lo. Não consegui. Cada livreiro pesquisava no computador e me dizia que eu encontraria Dans la forêt du hameau de Hardt nessa ou naquela outra livraria, mas nenhuma ficava perto dos diferentes lugares aonde eu pretendia ir.
Surgiu em mim grande frustração. Um livro pode ser como um remédio, de que precisamos para sobreviver, para curar uma doença. Estou sempre em busca do livro que resolverá tudo na minha vida; que, ao ser lido, eliminará qualquer problema e a sensação física de uma carência. Esses livros, na verdade, existem. Estão por toda parte. Aparecem inesperadamente em nossas vidas. Há muito de acaso nisso; no entanto, ao lê-los temos a sensação de que, a partir dali, vamos viver de forma idílica, pacífica, com a mente satisfeita. Sentimos que aquele era o elemento que faltava; a partir de agora estaremos completos. Pode ser por causa da história como um todo, por causa da perfeição de uma frase, por causa da apresentação gráfica. Pode ser também por uma fantasia, uma projeção que fazemos sobre aquele volume, sem muito entender a razão. Se é um livro de não ficção, pode ser porque trata de um tema de interesse profundo para nós, sobre o qual nova luz é jogada. Seja qual for a razão, o remédio faz seu efeito. A questão é que essa é uma sensação apenas temporária. Deixamos de tomar o remédio, e o corpo sente sua falta. Logo precisaremos encontrar outro livro.
Na terça-feira, meu último dia em Paris, fui de manhã a uma de minhas livrarias prediletas, a Delamain, na place Colette, em frente à Comédie-Française. Eles não tinham o romance de Grégory Le Floch, mas indicaram o lugar mais próximo onde eu poderia encontrá-lo, uma livraria chamada Petite Égypte. Lá pude ir apenas no final da tarde. Entrementes, eu almoçara com o escritor Leonardo Tonus na Sorbonne, onde ele leciona, e tentara inutilmente comprar o livro no Quartier Latin.
Achamos que conhecemos bem uma cidade, e ela nos surpreende sistematicamente. Jamais eu ouvira falar que, em pleno 2ème arrondissement, há um canto conhecido como Petite Égypte — cercado pela rue du Nil, a rue du Caire e a rue d’Aboukir —, que dá seu nome à livraria. Esta, por sinal, é excelente. A livreira mostrou-me um exemplar de Dans la forêt du hameau de Hardt. Perguntei se ela o tinha lido. Respondeu que não, mas comentou gostar muito dos títulos publicados pelas Éditions de l’Ogre.
Paguei o livro e saí. Estava atrasado. Tinha entradas para a Ópera, sala Bastille, onde assistiria a uma produção inovadora de Les Indes Galantes. Esperavam-me Rameau e a amiga que eu convidara para escutar sua obra-prima. No metrô, percebi ter gastado o dia em Paris atrás de um livro. Senti porém que valera a pena. O próprio fato de eu ter conseguido comprá-lo, depois de tanto esforço, tornava o mundo um lugar mágico. Segurá-lo nas mãos dentro do vagão do metrô era a cura para a doença que ele próprio criara, a necessidade de lê-lo.
No dia seguinte, no voo de volta para o Brasil, mergulhei na prosa de Grégory Le Floch. O livro — que ganharia poucas semanas depois um prêmio da Fondation Prince Pierre de Monaco — marcou-me pela dificuldade do personagem principal, Christophe, em narrar a morte, de que fora testemunha, de um amigo na Calábria. A personalidade inquietante de Christophe — não sabemos se ele é apenas de uma timidez doentia, ou um verdadeiro néscio, ou se sofre de distúrbios psicológicos — forma a base de um texto que trata da dificuldade de narrar, de escrever, de falar, de compartilhar pensamentos e histórias. Relatar o que presenciou na Calábria representaria para Christophe uma morte mental: “meu espírito não sobreviveria à narração daquela história […] essas palavras me matariam, não literalmente, eu já disse, mas me matariam mesmo assim definitivamente”. Na impossibilidade de contar o que presenciou, foge para uma aldeia na Alemanha, frente a uma floresta, e lá permanece por dez anos.
O toque cruel é que ele decide estar pronto a contar o que viu dez anos antes apenas quando a família do amigo morto encontrou a paz e já não precisa de sua história. Christophe pega o carro, volta à França, chega à casa da mãe do amigo morto e encontra a família toda reunida, por motivos indefinidos. A sua narrativa, que conclui o romance, é construída como uma cena de teatro.
A fala final de Christophe lembrou-me uma das tiradas mais célebres do teatro francês, le récit de Théramène. Em Phèdre, a peça mais famosa de Racine — embora não a minha predileta — Teseu exila o filho, Hipólito, acusado injustamente pela madrasta, Fedra, de ter tentado seduzi-la. Teseu, cegado pela raiva, não percebe que na verdade é Fedra quem ama Hipólito. O deus Netuno, acolhendo o desejo de vingança de Teseu, lança contra o príncipe um monstro marinho, na estrada à beira-mar pela qual partia para o exílio. Não vemos em cena a morte de Hipólito; ouvimos, junto com Teseu, detalhes de como ela se deu, por meio da narrativa de Théramène, seu preceptor e amigo.
A família do amigo morto, plateia de Christophe, reagirá à sua fala aterrorizante, devemos imaginar, com o mesmo estupor com que Teseu e o público de teatro reagem ao relato de Théramène. Tal qual o ator que abandona o palco após uma fala dramática, Christophe deixa a casa ao concluir seu terrível discurso. Presumivelmente, sua personalidade mudará; ficará menos arisca. Christophe pôde, depois de dez anos de sofrimento, narrar a sua história. Venceu seus temores. Encontrou-se. Libertou-se.
O voo aterrissou. Durante alguns dias, vivi em paz. Estava curado. Nenhuma fome por novas histórias e nenhum livro visto ao acaso me perturbaram. Poucos dias depois, a moléstia voltou, implacável.

Versão diferente e mais longa deste texto foi publicada pelo jornal Rascunho, com o título Perdido na Floresta