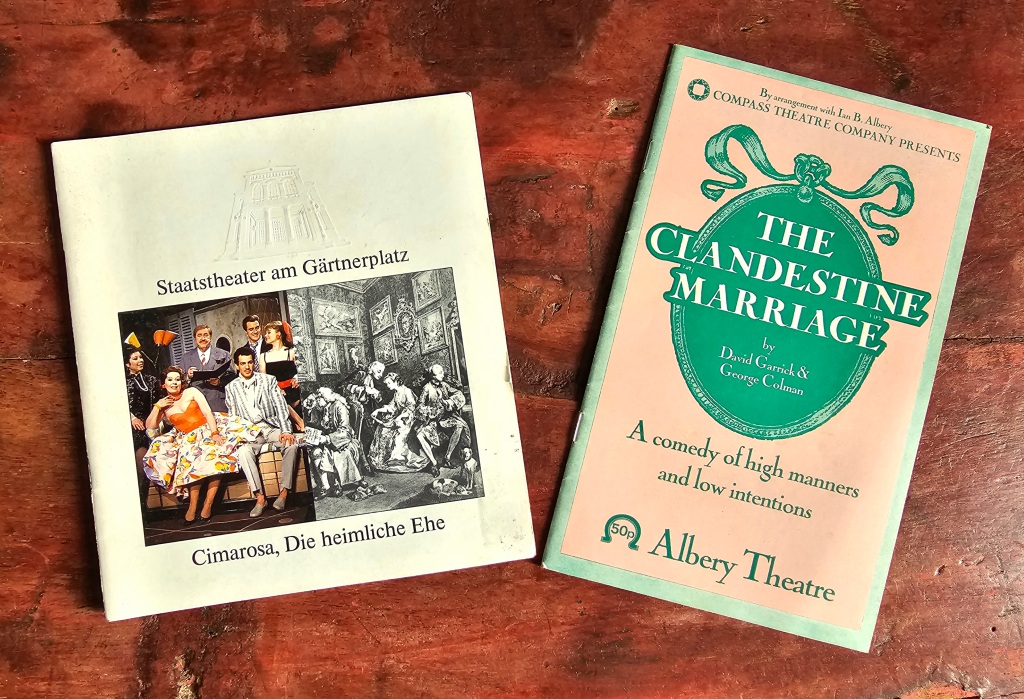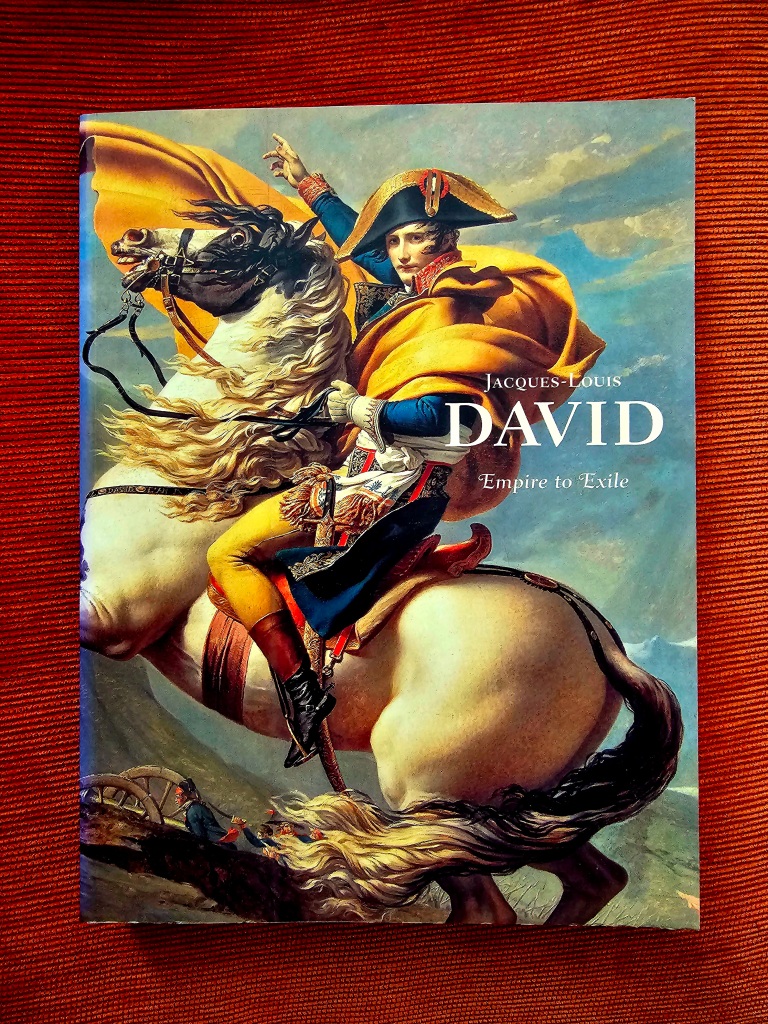O convite partiu do embaixador da Espanha. Perguntou-me se eu aceitaria ser incluído no grupo. Concordei sem hesitar. A ideia era celebrar em Kuala Lumpur o “Dia do Idioma Espanhol”. O cenário seria o pequeno palco da livraria Eslite Spectrum, inaugurada há pouco tempo e pertencente a uma cadeia de Taiwan. Cada participante leria um texto em espanhol, de sua escolha, por não mais do que cinco minutos.
Fiquei pensando sobre o que selecionar. Lembrei de um soneto de Jorge Luis Borges que é, de certo modo, um tributo à língua portuguesa, cuja data se celebraria dois dias depois da leitura na Eslite.
O embaixador da Argentina leu o prefácio de Ernesto Sabato (1911-2011) para seu livro de recordações, seu “testamento”, Antes del fin, publicado em 1998. A frase este complejo, contradictorio e inexplicable viaje hacia la muerte que es la vida de cualquiera, foi dita no tom certo, sem entonação melodramática.
O embaixador do México optou por “Hombres necios que acusáis”, de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), cuja primeira estrofe é:
Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis
Chile escolheu o poema de Nicanor Parra (1914-2018) em homenagem à sua irmã, “Defensa de Violeta Parra”; Colômbia, parágrafos de uma das novelas de Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero, de Álvaro Mutis (1923-2013). Cuba leu o conto “Francisca y la muerte”, de Onelio Jorge Cardoso (1914-1986); Peru, o poema “Hallazgo de la vida”, de César Vallejo (1892-1938).
A embaixadora do Uruguai selecionou parágrafos de La insumisa, autobiografia romanceada, publicada em 2020, de Cristina Peri Rossi (1941- ), único autor vivo escolhido. Teria sido uma felicidade poder escutar a obra por mais do que cinco minutos.
Nascida em Montevidéu, Cristina Peri Rossi exilou-se em 1972 na Espanha. Autora prolífica, é também tradutora, inclusive de literatura brasileira: Clarice Lispector, Osman Lins, Ignácio de Loyola Brandão, Graciliano Ramos e Fernando Gabeira. Ganhou o Prêmio Miguel de Cervantes em 2021. Havia, aliás, concentração de ganhadores do prêmio entre os autores selecionados: Borges o recebeu em 1979, Sabato em 1984, Álvaro Mutis em 2001, Nicanor Parra em 2011.
O trecho lido pela embaixadora uruguaia incluía a seguinte frase: Al exiliarnos juntas, fue, en realidad, como si no nos hubiéramos exiliado, como si transportáramos con nosotras todo aquello que amábamos hasta entonces. Na lista das coisas amadas em comum estavam las canciones de María Bethânia. Sobre a ruptura dessa relação amorosa, um ano depois, a autora diz: comprendí que el exilio no era solo cambiar de espacio, el exilio era separarse de la persona amada.
Assim vivi eu entre 2020 e 2022, por causa da pandemia e o fechamento das fronteiras no Sudeste asiático, sem nunca poder ver a mulher amada, eu morando na Malásia, ela em Singapura. No dia seguinte, telefonei para minha colega uruguaia e pedi emprestado seu exemplar do livro.
La insumisa já começa de maneira surpreendente, com a frase: La primera vez que me declaré a mi madre, tenía tres años. É a história de uma infância e uma adolescência anticonformistas. Com ironia, Cristina Peri Rossi descreve um mundo soturno. Um hospital é palco de um estupro. O pai mantém com ela uma relação conflitiva; ele é agressivo, e sua vida, nos diz a autora, foi una larga, única y sostenida depresión. Um capítulo quase nos ilude, parecendo ser a poética descrição de uma estação de trem provinciana, no campo, chefiada por um tio-avô. A narradora tem agora quatro anos e atravessa um período feliz, correndo livre entre animais domésticos e avestruzes: El pueblo se llamaba Casupá, en honor a un cacique indio especialmente resistente a la Conquista.
Pesquiso e vejo que o povoado fica em terras que pertenceram ao avô do General Artigas. Chego a lamentar, a essa altura do livro, que, tendo vivido três anos em Montevidéu na infância, nunca tenha ido a Casupá, não tenha conhecido aquele cenário idílico.
Mas o tom logo muda. As vias ferroviárias são fechadas, os vagões abandonados no campo, alejados de cualquier camino y sin destino. Na ditadura militar uruguaia, serviram de campos de concentração, pois las cárceles y los cuarteles no fueron suficientes para encerrar a todos los presos políticos. Lemos detalhes do que significava viver trancado, amontoado, sem luz, sem banheiro, no ar rarefeito dos vagões. A narrativa, encantadora e bucólica poucos parágrafos atrás, torna-se agora terrível. Afinal, como observa a autora, los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria para hacer sufrir a los demás.
O príncipe Segismundo, esse Hamlet espanhol, teria também algo a nos contar sobre o sofrimento de viver, e na verdade contou-nos, aos ouvintes na livraria em Kuala Lumpur. Personagem principal da peça mais conhecida de Calderón de la Barca (1600-1681), La vida es sueño, ele foi interpretado pelo Embaixador da Espanha. Versos de suas duas falas mais famosas, habilmente mesclados, foram declamados, no pódio, com verdadeiro talento teatral.
Herdeiro do trono da Polônia, Segismundo cresce, por ordem do rei Basilio, seu pai, preso em uma torre nas montanhas. O rei é também astrólogo; os astros lhe comunicaram, ao nascer seu filho, que este — víbora humana del siglo — causaria grandes dores ao país e a ele próprio, o pai. O nascimento, de fato, dá-se sob algum signo infeliz: a rainha morre no parto, e isto coincide com um eclipse apocalíptico, descrito por Basilio em versos que me fazem pensar mais em outro fenômeno natural, as erupções vulcânicas que testemunhei em Quito:
Los cielos se oscurecieron,
temblaron los edificios,
llovieron piedras las nubes,
corrieron sangre los ríos.
Com a consciência inquieta diante da longa prisão a que submeteu o filho, o rei decide um dia testar se os astros estavam certos. Manda trazerem Segismundo ao palácio real. Ao descobrir-se príncipe, e que apesar disso fora criado de maneira solitária, como um animal capturado, Segismundo torna-se violento, o que parece confirmar a profecia. É enviado de volta à torre. Convencem-no de que a ida ao palácio, o encontro com o rei, a revelação de sua verdadeira condição foram apenas cenas de um sonho.
Uma revolta de soldados, que querem aclamá-lo, liberta-o, no entanto, do enclausuramento. No final, pai e filho se reconciliam, Basilio abandona o trono, Segismundo se torna rei, deduzimos que governará com moderação, e seu casamento com a prima Estrella é anunciado.
La vida es sueño causou-me impacto quando a li pela primeira vez, aos 21 anos. Meu objetivo era familiarizar-me com o texto antes de assistir, em Londres, a uma produção da Royal Shakespeare Company, no The Pit, sala menor do Barbican Centre, teatro onde a companhia naquela época se apresentava na capital, em alternância com Stratford-upon-Avon. No meu programa da peça, anotei ter gostado das atuações e da produção, mas considerei o texto em inglês mais uma adaptação do que uma tradução. Nunca esqueci essa montagem.
Este ano, em abril, outra companhia de teatro, a fenomenal Cheek by Jowl, fez quatro apresentações da peça, em espanhol, e com atores espanhóis, na sala grande do Barbican. Essa produção, muito comentada, fora primeiro mostrada na Espanha, em turnê, nos últimos meses de 2022, e terminou no Festival de Edimburgo, em agosto. Uma das resenhas menciona que, na torre, o único consolo de Segismundo é ouvir Carmen Miranda cantando “Cuanto le gusta”, em uma gravação com as Andrews Sisters.
Se eu não tivesse, no começo de junho, rompido dois ligamentos no tornozelo direito, teria sonhado em tirar férias e viajar a Edimburgo em agosto. Fundada por Declan Donnellan e Nick Ormerod, Cheek by Jowl é uma companhia que apresenta peças em diversos idiomas, em diferentes países. Há muitos anos, assistimos à sua produção de Macbeth, em inglês, em Namur, e a Andromaque, em francês, em Bruxelas. A montagem da peça de Racine era particularmente notável.
Mas voltemos a Kuala Lumpur, onde o embaixador da Espanha declama versos do primeiro solilóquio de Segismundo na torre, no início de La vida es sueño:
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así
qué delito cometí
contra vosotros, naciendo;
aunque si nací, ya entiendo
qué delito he cometido;
bastante causa ha tenido
vuestra justicia y rigor,
pues el delito mayor
del hombre es haber nacido.
Para emendar, em seguida, com as igualmente célebres linhas do regresso à prisão. Convencido por Clotaldo, seu tutor e cortesão do rei, de que as experiências que viveu no palácio foram apenas uma miragem, Segismundo conclui:
Es verdad, pues: reprimamos
esta fiera condición,
esta furia, esta ambición,
por si alguna vez soñamos.
Y sí haremos, pues estamos
en mundo tan singular,
que el vivir sólo es soñar;
y la experiencia me enseña,
que el hombre que vive, sueña
lo que es, hasta despertar.
Yo sueño que estoy aquí,
de estas prisiones cargado;
y soñé que en otro estado
más lisonjero me vi.
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
Y los sueños sueños son.
Borges menciona Calderón com alguma frequência em suas obras, e até Segismundo uma ou outra vez. É, porém, em uma entrevista concedida a Fernando Sorrentino e publicada por este em 1974 no livro Siete conversaciones con Jorge Luis Borges que encontro a opinião mais contundente, e surpreendentemente negativa: En cuanto a la versificación de Calderón, la encuentro excesivamente pobre y será, quizá, porque no lo he leído bien. Quem sou eu para condenar Borges? E no entanto, eu o faço.
La vida es sueño é uma peça filosoficamente complexa, e a qualidade poética do texto não é menos sofisticada. Relendo-a no amarelado exemplar comprado em Londres há tantos anos, duas ideias me capturam. Primeiro, a beleza estética que encontro na linguagem:
que hoy he de dar la batalla,
antes que las negras sombras
sepulten los rayos de oro
entre verdinegras ondas.
Parece-me extraordinário que a língua espanhola possa acomodar um vocábulo específico, verdinegro, para definir uma cor indefinida, aquela tonalidade verde, quase negra que, de fato, o mar adquire, em um entardecer ensolarado, logo antes de ficar completamente escuro.
A segunda ideia é o dilema metafísico vivido por Segismundo. É curioso que Borges, cuja obra ilumina nossa leitura atual de Calderón, minimize o dramaturgo espanhol.
Mesmo Manuel Bandeira, em geral tão clarividente, oferece em Noções de História das Literaturas (1942) uma interpretação meramente moralista, ou talvez cristã, de La vida es sueño. Considera uma fala de Clotaldo a Segismundo — aun en sueños no se pierde el hacer bien — a síntese da peça, e comenta: “realidade ou sonho que seja a vida, o que importa é voltarmo-nos para o que é eterno”. Essa visão se aproxima daquela de Borges sobre a peça. Na entrevista de 1974, o escritor argentino afirma que, para Calderón, a frase la vida es sueño possui um sentido teológico, e não metafísico. Estima que, para o dramaturgo espanhol, a vida é apenas una breve parte de la realidad, pois lo verdadero son el cielo y el infierno. La idea de Calderón es una idea cristiana. Creo que Calderón le daba el énfasis a la idea de lo transitorio de la vida, comparado con lo transitorio de un sueño.
Na verdade, a peça do “Siglo de Oro”, montada pela primeira vez por volta de 1635, coloca em questão, de uma maneira muito borgiana, a própria realidade da realidade. Segismundo é um prisioneiro que sonha em ser príncipe? É um príncipe resgatado do pesadelo de uma prisão? A vida é real? Ou é um sonho? “Uma sombra”? “Uma ficção”?
O que significa estar vivo, existir? Os versos pues el delito mayor / del hombre es haber nacido são citados com reverência por Arthur Schopenhauer, que por sua vez foi uma forte influência intelectual sobre Borges. Este aliás opina, na entrevista supracitada, que Calderón es una invención de los alemanes. A resolução edificante do enredo — Segismundo vira um bom rei, pai e filho se reconciliam — era apropriada para a Espanha do século XVII, e em nada diminui a profundidade das questões metafísicas suscitadas.
Se Jorge Luis Borges tinha reticências em relação a Pedro Calderón de la Barca, eu nenhuma tenho quanto a seu soneto “A Luis de Camoens”, da coleção El hacedor (1960). É esse o poema que decidi ler, em 3 de maio, ao público presente na livraria em Kuala Lumpur.
Expliquei à plateia que o “Dia da Língua Portuguesa” seria logo em seguida, em 5 de maio. Mencionei ser Camões o poeta nacional de Portugal, e um dos pilares das literaturas de língua portuguesa. Comentei que a colonização do Brasil começara simultaneamente à derrocada pelos portugueses do Sultanato de Malaca (1511), quando Portugal se instalara naquela área da Península Malaia, primeira potência europeia a fazê-lo. Como consequência, o malaio contém vários vocábulos derivados do português. O próprio Luís de Camões vivera em Malaca. Apontei os versos em que Borges lembra ter o poeta voltado à patria nostálgica para morir en ella y con ella, já que em 1580, mesmo ano de sua morte, Portugal e suas colônias passaram sob o domínio espanhol.
É este o soneto:
Sin lástima y sin ira el tiempo mella
las heroicas espadas. Pobre y triste
a tu patria nostálgica volviste,
oh capitán, para morir en ella
y con ella. En el mágico desierto
la flor de Portugal se había perdido
y el áspero español, antes vencido,
amenazaba su costado abierto.
Quiero saber si aquende la ribera
última comprendiste humildemente
que todo lo perdido, el Occidente
y el Oriente, el acero y la bandera,
perduraría (ajeno a toda humana
mutación) en tu Eneida lusitana.
Os últimos versos são uma celebração do ofício poético e, por extensão, da literatura como um todo, e da arte. Os grandes autores e artistas fazem perdurar, em nossas mentes, a experiência humana ao longo da história, e dão sentido ao que, sem eles, talvez não tenha sentido algum. Essa é uma constatação sempre presente para mim. Em 1580, Portugal perdeu el Occidente y el Oriente, a glória da espada e da bandeira. Mas tudo isso é resgatado, e magicamente sobrevive, em Os Lusíadas.
O evento na livraria chegava ao fim. Faltava contudo algo. Seria inconcebível que Dom Quixote, no “Dia do Idioma Espanhol”, não fosse lembrado. Uma aluna universitária malásia levantou-se, subiu ao pódio e leu parágrafos da obra de Cervantes, primeiro em castelhano, depois em malaio. Como convinha, um dos grandes mitos da literatura universal, o leitor de romances medievais que resolveu atacar moinhos de vento, surgira para encerrar a sessão.

Este texto foi primeiro publicado, em 5 de agosto de 2023, no jornal de literatura Rascunho