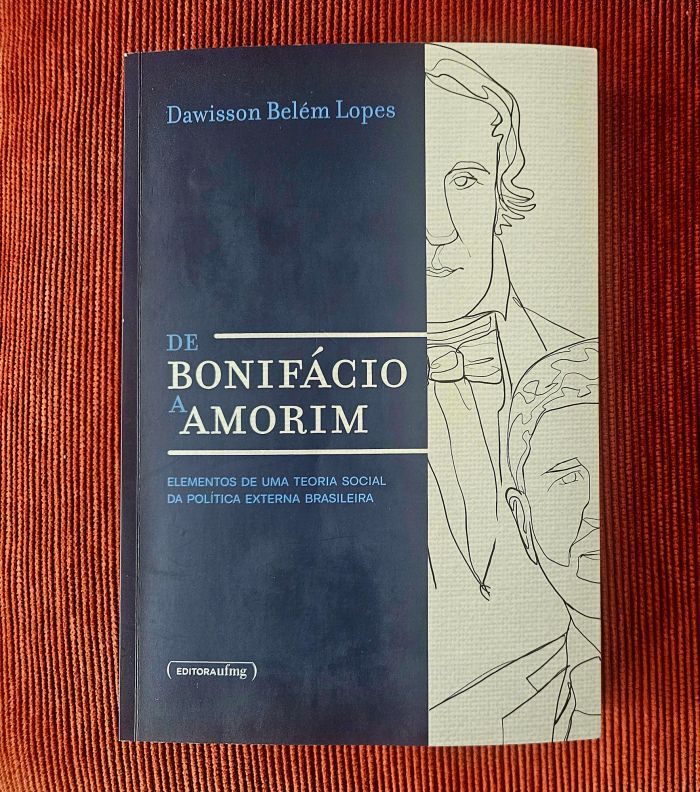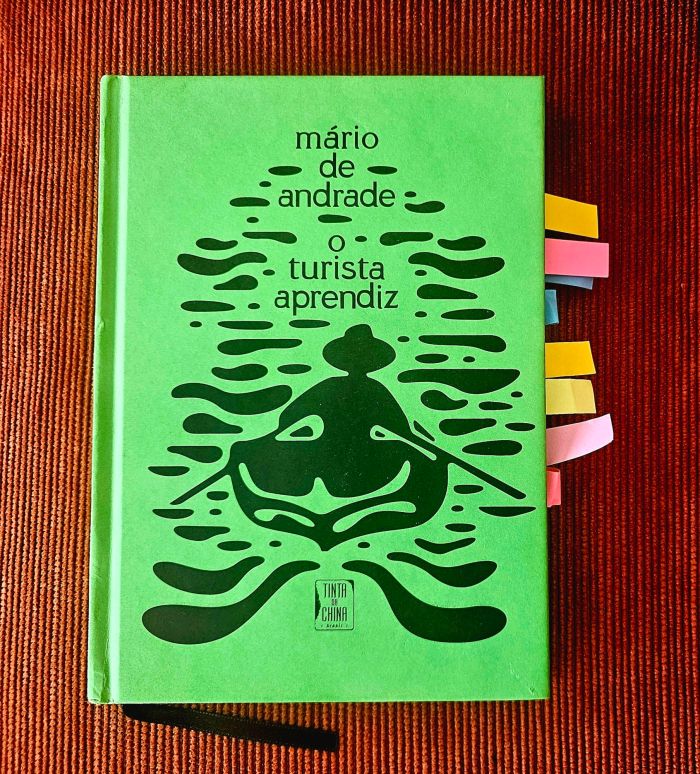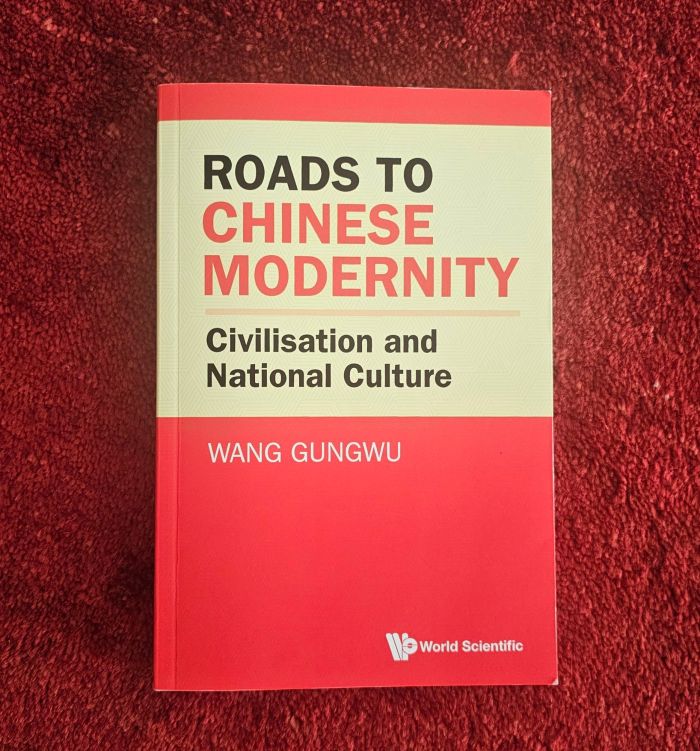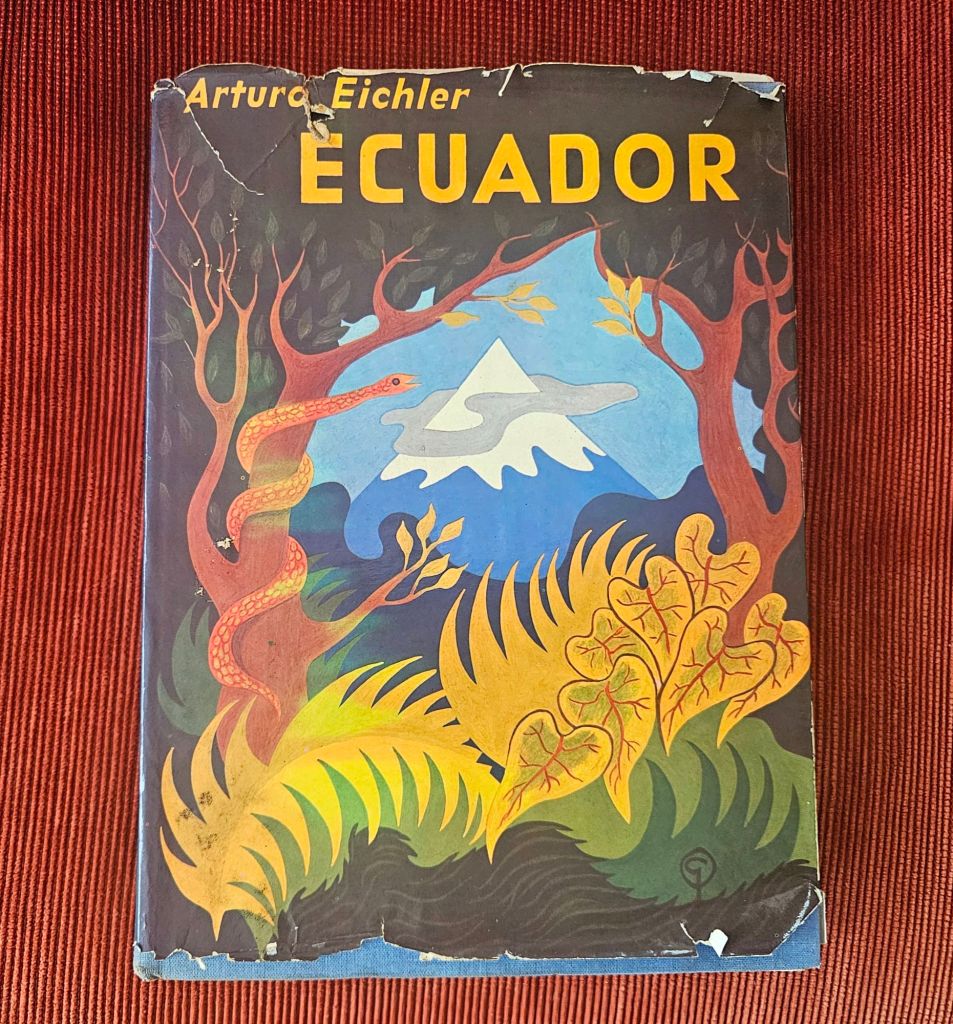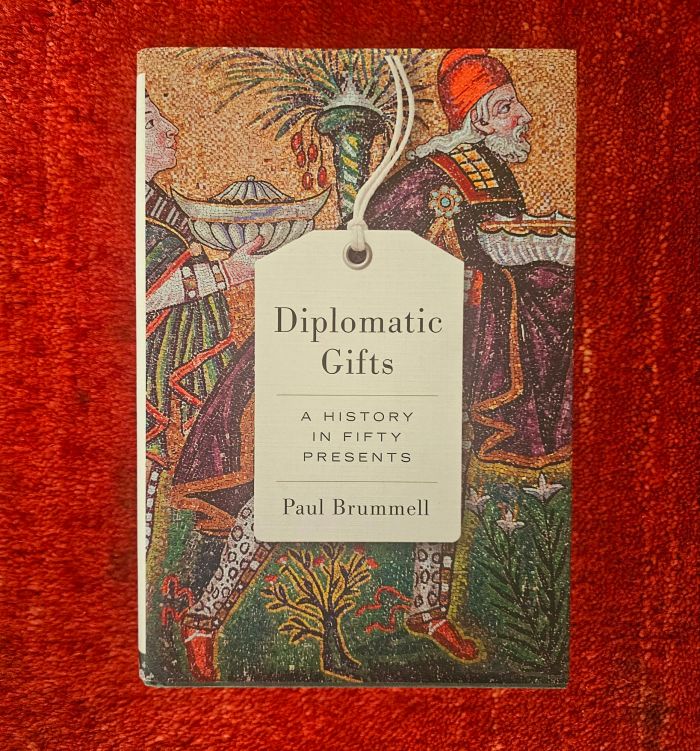Em Lisboa, no domingo 28 de dezembro, ouvi, no cenário mais improvável, uma análise sobre política internacional. Nesse dia, minha mulher e eu acompanhamos minha mãe à sua igreja preferida na capital portuguesa, no Chiado. Fomos à missa do meio-dia. Minha mãe nos prevenira que a frequentação é elegante. O comentário era destinado a mim, como uma mensagem codificada, porque ela sabe que ambientes excessivamente sociais me causam tédio. Podia ser tomado como uma recomendação, ou advertência, se quisermos, de que eu fosse tolerante e paciente e me comportasse bem. Mães são assim, nunca nos veem como adultos.
A observação materna permitiu que eu me preparasse com antecedência. De resto, este Natal foi particularmente reflexivo para mim, pois acompanhou-me o sentimento da incongruência entre a abundância e as trocas de presentes características da estação, para alguns, e a celebração do nascimento de alguém que viveu sem qualquer conforto material e foi morto de maneira tão cruel.
O domingo de inverno estava ensolarado, não havia no céu uma nuvem sequer, contrastando com o frio e as chuvas da véspera. A igreja lotou rapidamente. A atmosfera era de contemplação. Ali reinava o espírito religioso, não o desejo de ser visto. Há muitos anos eu não entrava naquele recinto lisboeta que foi, no passado, cômodo para mim, já que minha irmã morou durante décadas ali perto. Em termos arquitetônicos, é um belo exemplo de templo em estilo neoclássico, ainda com elementos barrocos, de fachada relativamente simples e interior marmóreo e imponente. A pintura no teto da nave representa a Anunciação.
O sermão pegou-me de surpresa. De início, tudo pareceu transcorrer placidamente, dentro de parâmetros previsíveis e edificantes. Houve primeiro referência a uma família presente, na qual o pai e a mãe estavam comemorando cinquenta anos de casados. Perguntei-me se eu viveria tempo suficiente para comemorar o mesmo aniversário. A seguir, o Evangelho a que recorreu o padre como inspiração foi o de Mateus. Narrou a fuga para o Egito. Mencionou a maldade de Herodes, a sua soberba. Explicou como devem ser vistos Maria, José e o Menino Jesus no contexto da viagem ao Egito. Sem usar esta palavra, fez seu auditório pensar em refugiados. E então, mudando a entonação de voz, o padre causou um sobressalto. Declarou: “Eu não deveria, talvez, abordar temas políticos, mas não posso evitá-lo. Fico com o estômago embrulhado ao ver as coisas que acontecem hoje”. Os fiéis ouviam-no atentamente. Ao menos minha mulher, minha mãe e eu, com nosso interesse profissional despertado. Mas certamente não apenas nós. Havia na igreja, entre os ouvintes, como um silêncio de expectativa, bastante perceptível.
Continuou o padre o seu sermão: “Se não leram o recente documento americano de Estratégia de Segurança Nacional, recomendo que o façam. A Europa ocupa três páginas das trinta do texto. Somos chamados ali a implementar uma política de exclusão, em vez de uma política de inclusão. É a negação do espírito cristão que estão a nos exigir. Jesus não pregava o repúdio ao que é estrangeiro a nós”. Apenas a voz do pregador ressoava e, ocasionalmente, abafado, algum ruído de buzina ou motor vindo da rua. As palavras que nos chegavam de perto do altar-mor eram enunciadas em tom calmo, mas firme, seguro. Não havia drama nem teatralidade. Por isso mesmo, era uma oratória que capturava a atenção dos fiéis. Atento ao sermão, com o corpo dobrado para a frente de forma a ouvir melhor, permiti-me olhar à minha volta. Ninguém parecia surpreso ou desagradado. Afinal, se aquela numerosa congregação vai à missa naquela igreja e naquele horário é porque aprecia os sermões daquele padre.
Deduzi que um pároco com tamanha habilidade é bem capaz de promover conversões ou despertar vocações religiosas. Em todo caso, sua segurança e serenidade, a própria modéstia com que conduzia a missa estariam promovendo na plateia reflexões sobre temas de política externa a que muitos ali talvez fossem alheios no dia a dia. A voz continuava. Condenou a guerra na Palestina e a guerra na Ucrânia. Lembrou que Jesus gosta dos humildes, dos desvalidos, não necessariamente dos poderosos.
Depositei um bilhete no saquinho, durante a coleta. Ofereci o braço à minha mãe para que comungasse. Cumprimentamos o padre à porta da igreja. O dia continuava ensolarado e, ao nosso redor, na rua, a vida prosseguia, com os transeuntes bem agasalhados agitando-se em seus afazeres, felizes. Os frequentadores habituais daquela igreja se cumprimentavam afetuosamente na calçada. Tinham sabido guardar a sociabilidade para os momentos após a missa. Caminhamos os três em direção ao restaurante, ali mesmo no Chiado, onde minha irmã juntou-se a nós.
A internet, tantas vezes utilizada para ataques entre as pessoas, revelou-se uma vez mais, para mim, um instrumento educativo. Quis saber o nome do padre cujo sermão me surpreendera pelo conteúdo e me impressionara pelo calor humano. Levei apenas um ou dois minutos para colher a informação. Trata-se de um religioso conhecido pela intelectualidade, autor de livros e artigos. Notei que outro padre na mesma paróquia é, curiosamente, um primo distante pelo meu lado paterno.
O almoço foi delicioso, na pequena sala bem aquecida. Dava gosto estar ali. Bem mais tarde, à noite, três de nós embarcaríamos em um mesmo voo.
O Natal, os últimos dias de dezembro e a virada do ano formam sempre esse momento abençoado, fugaz mas tão belo, em que a humanidade parece apta a viver em paz. Passeando com minha mulher pelo Chiado, pela Baixa, pela Praça do Comércio, onde o sol, aquecendo-nos, ainda tudo iluminava, olhando as gaivotas sobrevoando o Tejo, caminhando depois ao longo do rio, íamos os dois conversando sobre a beleza de viver, de estar juntos ali, intercambiando sonhos simples para 2026.
E é o que desejo também para vocês, caros leitores e leitoras, um Feliz Ano Novo.

Esta coluna foi publicada no Estado de Minas ontem, 3 de janeiro
Algumas de minhas colunas anteriores no Estado de Minas:
Belém, capital do mundo, 22 de novembro
O casamento em Berdichev, 8 de novembro
As pedras do Louvre , 25 de outubro
O Sudeste Asiático e suas verdades, 11 de outubro
Cem anos na Ásia do Leste, 27 de setembro
O embaixador decapitado, 2 de agosto
O espaço do diplomata, 19 de julho
Um Brasil consciente e forte, 24 de maio
O presente malásio, 12 de abril
Grandes diplomatas, 15 de março
Da Pampulha para Kuala Lumpur, 15 de fevereiro
O ponto de inflexão nas relações entre Brasil e Malásia, 18 de janeiro