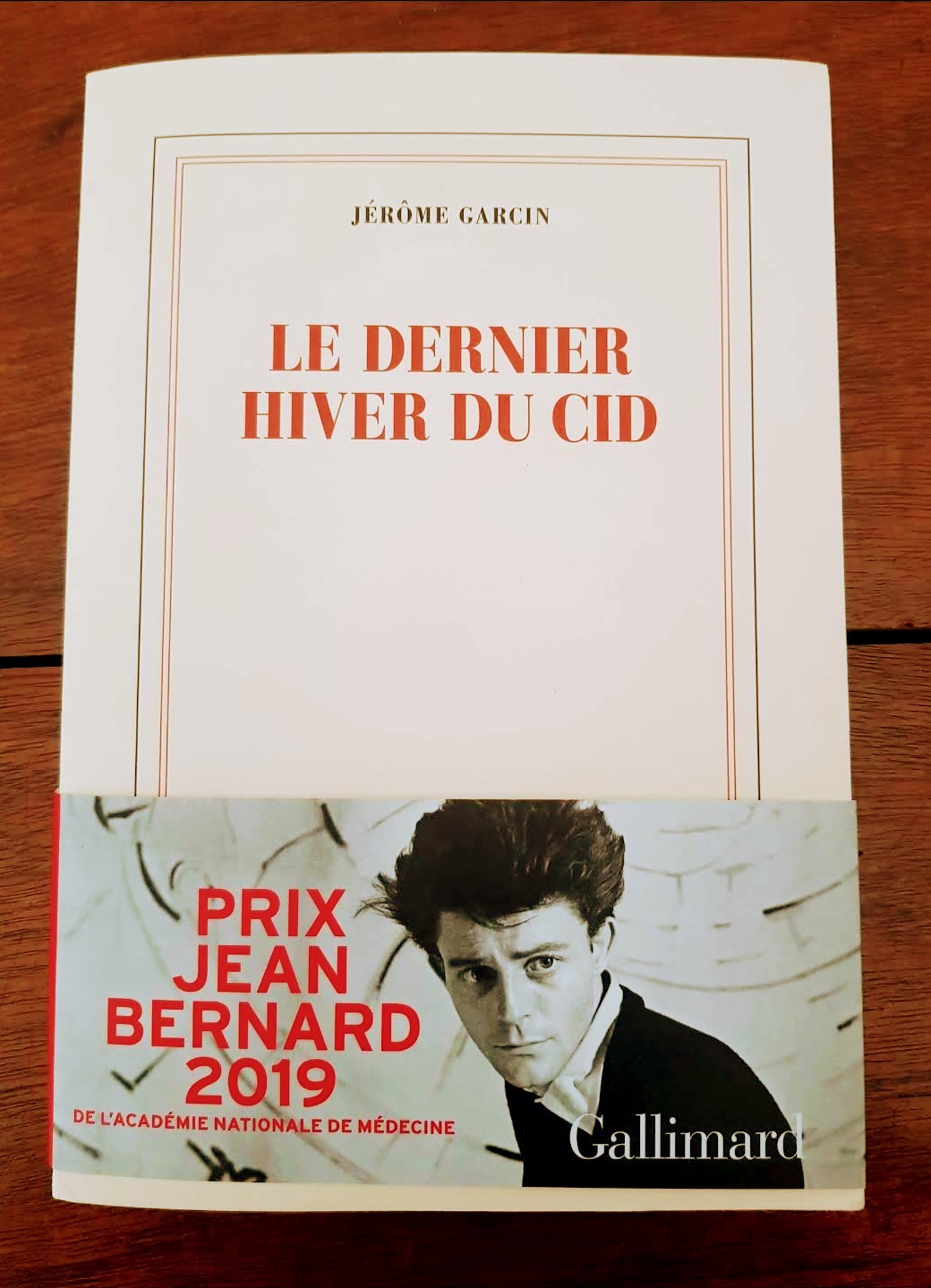Albert Camus sugere, em Le Mythe de Sisyphe, que toda fama é passageira; do ponto de vista da estrela Sirius, mesmo o renome de Goethe será efêmero, ainda que perdure por dez mil anos. Poucas horas antes de sua morte, em novembro de 1959, o ator Gérard Philipe releu o livro de Camus. Não sabemos se viu o comentário sobre a transitoriedade da fama. Não sabemos se ele suspeitava que estava morrendo. Tinha 36 anos.
Seu desaparecimento foi abrupto, causado por uma forma aparentemente rara de câncer no fígado, descoberto durante uma operação banal, duas semanas antes de ele falecer. Jovem, carismático, talentoso, o ator era extremamente popular. Sua celebridade era mundial.
Nos palcos, ele teve como mentor Jean Vilar, lendário diretor do Festival de teatro de Avignon e do Théâtre National Populaire em Paris. Foi particularmente incensado o seu desempenho como Rodrigue em Le Cid, que interpretou pela primeira vez em Avignon, em 1951, dirigido por Vilar.
Explica-se assim o título do livro sobre Gérard Philipe, Le dernier hiver du Cid, publicado em 2019 por seu genro, o jornalista e escritor Jérôme Garcin. Trata-se de uma crônica, dia após dia, das últimas semanas de vida do ator. A leitura do curto volume — menos de duzentas páginas — é fascinante. O texto é um ato de devoção de Jérôme Garcin. O amor pela sua mulher, Anne-Marie, filha do ator e personagem do livro, motivou sem dúvida a redação. Não há aqui revelações constrangedoras. O Gérard Philipe descrito por Garcin — que não o conheceu — é aquele de quem gostamos, cuja imagem valorizamos: intenso, vivendo de forma febril, bom pai de família, marido apaixonado, amigo leal, profissional dedicado à sua arte. O que nos é oferecido é a figura de um ser humano apto a ser idealizado.
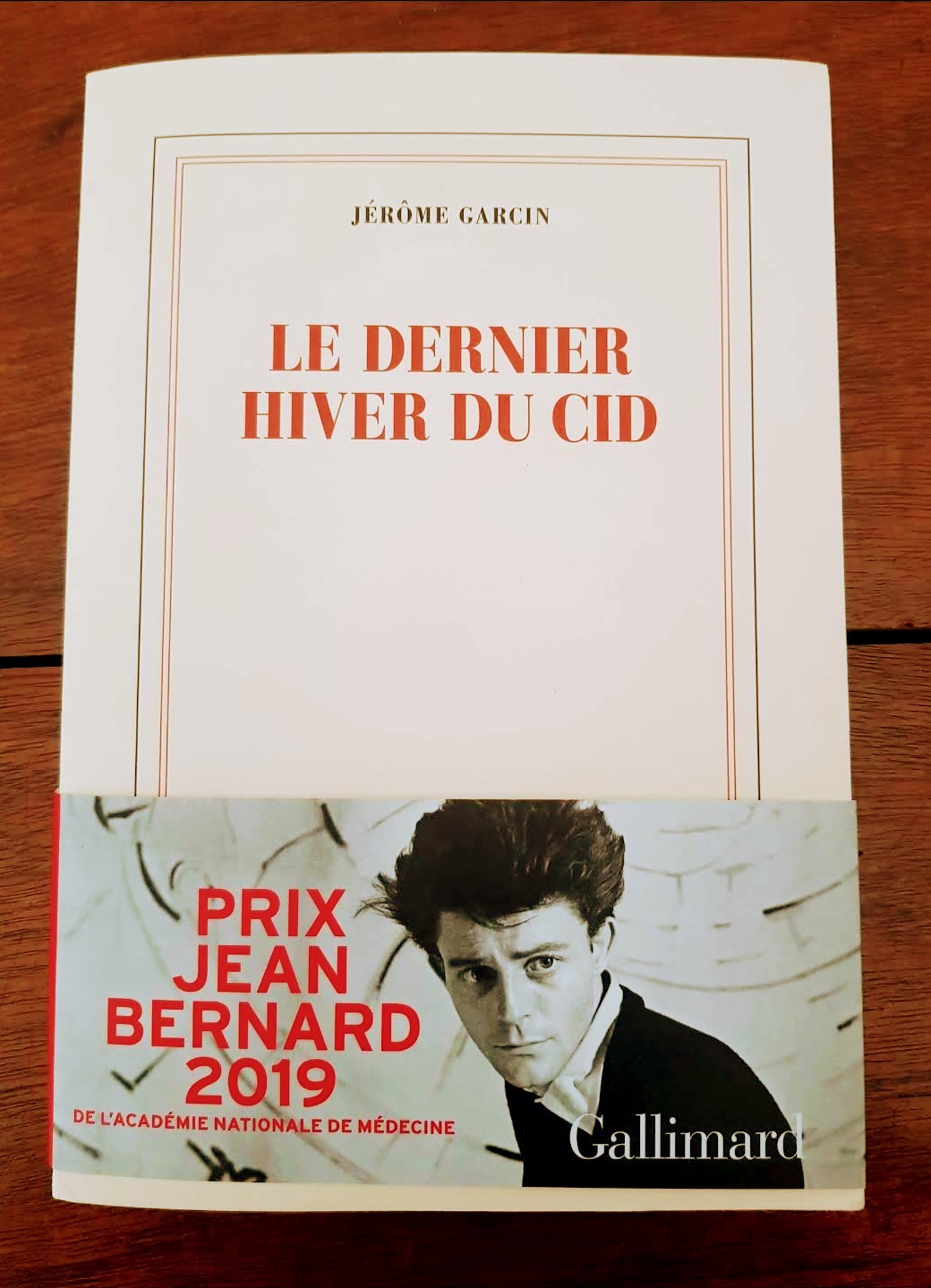
Gérard Philipe e o livro de Jérôme Garcin
Quando o livro começa, é verão e a família está na Provença, na casa de férias em Ramatuelle, perto de Saint-Tropez. A atmosfera é de otimismo e felicidade, e o ator faz planos para o futuro próximo. Dentro de alguns meses, começará a rodar uma versão cinematográfica de Le Comte de Monte-Cristo. Estuda a possibilidade de interpretar Hamlet nos palcos. Uma constante dor no ventre, um cansaço contínuo criam indagações, mas não preocupação excessiva. Ele acaba de voltar do México, onde trabalhou em um filme de Buñuel, La Fièvre Monte à El Pao. A indisposição é atribuída aos hábitos alimentares adotados em Acapulco. Nos primeiros dias de setembro, ele faz uma rápida viagem a Paris, para participar do lançamento de seu penúltimo filme, Les Liaisons dangereuses, dirigido por Roger Vadim, no qual sua parceira é Jeanne Moreau. No começo de outubro, vai a Stratford-upon-Avon para ver uma montagem por Peter Hall de Coriolanus, com Laurence Olivier. Viramos as páginas, sonhando com esses nomes pertencentes à mitologia do século XX, esquecendo-nos de que construir essa existência, exitosa nos planos pessoal e profissional, terá requerido dedicação, esforço, trabalho.
Na volta a Paris, no começo do outono, o ritmo do texto se acelera. O mal é atribuído a uma ameba. Uma operação é marcada para 9 de novembro. A partir daí, seguimos o calendário cotidianamente. É uma leitura angustiante, pois sabemos como, em 25 de novembro, tudo terminará.
Ao se internar em 5 de novembro, Gérard Philipe leva uma pilha de livros com ele. “Essencialmente”, nos diz Jérôme Garcin, “peças de Racine, Molière, Marivaux”. Há também quatro traduções de Hamlet; três por escritores prestigiosos — André Gide, Marcel Schwob, Marcel Pagnol — e a de um renomado tradutor do inglês, Pierre Leyris. O ator quer interpretar o príncipe dinamarquês na primavera seguinte, dirigido por Peter Brook. Em uma caderneta, faz anotações de caráter pessoal: “Quando o ator não está atuando, ele se sente doente, deprimido, inquieto”. Consagrado em Le Cid, deseja atuar em outras peças de Corneille. Pensa em montar tragédias gregas, talvez como diretor. No dia 19 de novembro, após internação de dez dias, Gérard Philippe sai do hospital. Sua mulher decidiu, seguindo conselho do médico que o operou, não dizer a ele que lhe sobram apenas poucos dias ou semanas de vida. Esse médico, embora isto não seja dito em Le dernier hiver du Cid, é um tio-avô do próprio Jérôme Garcin. No carro conduzido por um amigo do casal, no trajeto da clínica até o apartamento na rue de Tournon, perto dos jardins do Luxembourg, Anne Philipe nota como a aliança ficou larga no dedo do marido. Em quatro dias, estará viúva.
Em casa, ao observador desatento tudo parece normal. O ator recupera-se da sua operação, vê os filhos, recebe na sala amigos, a mãe, faz planos de férias. Em seu último dia de vida, Gérard Philipe parece melhorar. O médico, ao visitá-lo, surpreende-se com sua vitalidade. Recebe um amigo e anota peças de Eurípides, além de reler Le Mythe de Sisyphe — para nós, que temos o dom do conhecimento retrospectivo, é estranho saber que Camus também morreria de forma repentina, aos 46 anos, seis semanas depois do ator. Em Le Mythe de Sisyphe, que li há alguns anos, Camus discorre bastante sobre o trabalho dos atores. Com senso teatral, Jérôme Garcin comenta que o sogro, ao reler o livro em suas últimas horas de vida, nota o seguinte trecho: “Para o ator, uma morte prematura é irreparável. Nada pode compensar a soma de rostos e de séculos que, sem isso, ele teria percorrido”. Ao reler essa frase de Camus no livro de Garcin, percebi ser ela crucial para a minha visão sobre as artes cênicas em geral. Nunca saberemos como teria sido o Hamlet de Gérard Philipe. Para quem gosta de teatro, isso é uma grande perda. Penso que, de alguma maneira, a história do personagem de Hamlet deixou de ganhar mais uma dimensão, porque um ator como Gérard Philipe não lhe deu vida. Se ele tivesse sobrevivido por mais trinta anos que fosse, e morrido digamos em 1989, aos 67 anos, novas gerações, a minha inclusive, poderiam tê-lo visto no palco e talvez suas vidas sofressem modificações por isso. Naturalmente, já não seria o mesmo Gérard Philipe de 1959. Interpretações suplementares, outras experiências de vida teriam feito evoluir sua personalidade e sua técnica dramática. Devemos porém supor que, em 1989, em 1995, seu talento teria sido ainda maior.
Gérard Philipe interpretara, aos 22 anos, em 1945, o papel-título na primeira produção de uma famosa peça de Camus, Caligula. Quando lemos que ele, em seu último dia de vida, estava com um livro de Camus nas mãos, um ciclo parece se fechar. Quase que obedecendo à necessidade futura de efeito literário de seu genro, o ator morre naquela madrugada.
Jérôme Garcin gosta de escrever sobre vidas breves. Anteriormente, eu lera um único livro seu, Olivier, em que fala de seu irmão gêmeo morto por atropelamento aos cinco anos. Foi uma leitura particularmente perturbadora para mim, ao me tocar de maneira direta. Outro volume seu é sobre o pai, morto aos 45 anos em um acidente de equitação.
Fiz a leitura de Le dernier hiver du Cid em um domingo no final de fevereiro de 2020, recém-chegado a Kuala Lumpur. Não conseguia largar o volume. Ao me aproximar do dia da morte do ator, caiu sobre mim uma tristeza. Gostaria que a vida não fosse assim, que as pessoas não morressem jovens, sem terminar aquilo que estão destinadas a fazer. Diante da iminência da morte do ator, precisei parar a leitura por algumas horas. O talento de Garcin, e seu envolvimento emocional na história narrada, tornavam a proximidade do desfecho algo quase insuportável. Saí de casa a pé. Passeei pelo parque desenhado por Roberto Burle Marx aqui em Kuala Lumpur. A pandemia era ainda uma ameaça vaga na Malásia, o isolamento social não havia sido decretado, a vida das pessoas, dos animais e das plantas ao meu redor seguia seu rumo usual. Seguia porém em direção ao Nada, já que toda existência é absurda e, afinal, do suor, das lágrimas e também das alegrias, um dia nada fica. Como outras vezes antes, perguntei-me o quanto do parque respeita, hoje, o desenho original de Burle Marx. Quanto tempo dura a obra de um artista?
Voltei para casa, impus-me a tensão de terminar o livro. Li sobre a morte, talvez sem sofrimento pois ocorrida durante o sono, li sobre a comoção nacional que ela provocou, li sobre o enterro em Ramatuelle, com o cadáver vestindo os trajes que o ator usava no palco para interpretar Rodrigue, incorporando assim o Cid até depois da morte.
Em outubro de 2019, Garcin participou, para falar de seu livro, de uma emissão do programa La grande librairie, intitulada “Assuntos de família: escrever sobre eles é uma traição?”. Sobre o programa e o entusiasmo de François Busnel ao conduzi-lo, escrevi há um ano em Um lugar encantado. Aos escritores convidados naquela noite, Busnel colocou a questão sobre se, ao escrevermos sobre as pessoas próximas a nós, estamos quebrando a sua confiança. No caso de Jérôme Garcin, o problema não se colocava já que Le dernier hiver du Cid não degrada a imagem do sogro do autor. Garcin respondeu que, para ele, escrever é um ato de amor, que seu objetivo nunca poderia ser o de ferir seus próximos. Ao terminar de escrever o texto, decidira mostrar o manuscrito à sua mulher, para que ela julgasse se ele podia publicá-lo.
No livro como na entrevista, Garcin aborda a questão da fama de Gérard Philipe. Na televisão, declarou sem rodeios já não ser o ator tão conhecido: “la nouvelle génération ne sait plus qui c’est“. Possivelmente, referia-se ao talento do sogro, não tanto ao seu rosto ou ao seu nome. Jean Vilar não permitia que as montagens do Théâtre National Populaire fossem filmadas. Não podemos, por isso, ver hoje como atuava Gérard Philipe em Le Cid, em Lorenzaccio, em O Príncipe de Homburgo, em Ruy Blas, em Richard II. Meu apreço grande por essa peça de Shakespeare me faz lamentar não poder ver uma gravação do ator no papel do rei decaído. Garcin admitiu a François Busnel sua contrariedade ao ir, no verão de 2019, ao Festival de Avignon e não ver uma referência sequer ao fato de que cumpriam-se sessenta anos da morte do sogro, que contribuiu para a celebridade do Festival, do qual foi, por muitos anos, a figura mais emblemática.
É possível que ninguém tenha pensado em Gérard Philipe em Avignon em 2019, mas eu lá pensei nele em 2014. Naquele ano, no Festival, com minha mulher e minha filha, assisti a uma nova produção de O Príncipe de Homburgo, de Heinrich von Kleist. Nessa peça, sob a direção de Jean Vilar, Gérard Philipe cobriu-se de louros interpretando o personagem principal, no Festival de Avignon de 1951, de 1952 e de 1956, ali mesmo onde minha família e eu víamos a nova produção, no pátio interno do Palácio dos Papas. Em 2014, achamos a peça tediosa, apesar dos elogios da crítica. Saí pensando se seria por causa da tradução ou da produção ou simplesmente por causa do texto em si, de sua temática, de sua argumentação. Como puderam Jean Vilar e Gérard Philipe brilhar com aquele material? Produções teatrais têm sua lógica própria; um detalhe pequeno, difícil de identificar, pode criar, aos olhos de um espectador específico, uma impressão favorável ou negativa. A sensibilidade coletiva de uma época tampouco é permanente, e diferentes gerações podem ter diferentes leituras de um mesmo fenômeno estético.

Esperando começar a apresentação de O Príncipe de Homburgo
Garcin não omite o mau conceito em que os diretores da Nouvelle vague tinham Gérard Philipe. François Truffaut parece ter tido especial antipatia pela sua persona nas telas. Le dernier hiver du Cid nos diz que Truffaut escrevia sobre o ator coisas como: “terror dos bons diretores de cinema”, “comprometido com personagens melancólicos e tuberculosos de olhar marejado”, “ídolo do público feminino que tem entre 14 e 18 anos”. Na entrevista a François Busnel, Jérôme Garcin especula se essa atitude antagônica não era em parte causada por divergências ideológicas. O fato é que muitos dos filmes em que atuou Gérard Philipe estão esquecidos. Seu último, La Fièvre Monte à El Pao, é uma das obras mais obscuras de Buñuel. Nem a beleza imponente da atriz mexicana María Félix consegue salvá-la.
Criança, adolescente, vi alguns de seus filmes na televisão, ou em retrospectivas no cinema. Sua aura perdurava ainda. É impossível, para mim, pensar em Julien Sorel e não visualizar o personagem tal como encarnado pelo ator na versão cinematográfica de Le Rouge et le Noir dirigida por Claude Autant-Lara em 1954. Para várias gerações, é inesquecível sua atuação em Fanfan la Tulipe, filme de 1952 dirigido por Christian-Jaque, onde representa um herói do século XVIII livre, sorridente, enérgico. Suponho que o personagem de Fanfan la Tulipe tenha contribuído para a fama de personalidade luminosa do ator.
Na Internet, encontrei com facilidade uma cópia integral, embora de má qualidade, de um filme de 1954 dirigido por René Clément e estrelado por Gérard Philipe, Monsieur Ripois, a que eu nunca assistira antes. Trata-se de uma história contemporânea, passada em Londres. É um excelente filme, e a interpretação do ator é bem diferente dos “personagens melancólicos de olhar marejado” denunciados por Truffaut. Seu papel é o de um casanova moderno. Na melhor cena, Ripois e a mulher por quem ele naquele momento está interessado são surpreendidos na rua pela chuva. Como quem não quer nada, ele menciona que mora ali perto. Ela finge não entender e sugere de eles irem à National Gallery. Nesse momento, encarnando Ripois e seu vazio interior, Gérard Philipe, que está de costas para o espectador, vira o rosto para trás, olha em direção a um ponto à nossa direita e retruca, com expressão amuada, olhar angustiado, voz contrariada: “La peinture me déprime“. É um grande momento cinematográfico.
Jérôme Garcin termina o livro deixando-nos na companhia de um antigo ator, e professor de arte dramática, que dera aulas a Gérard Philipe. Em seu apartamento, enlutado, Georges Le Roy pensa naquele que, com sua morte, deixara-o sentindo-se “órfão de um filho”. Um mês antes, os dois haviam se visto, e o ator mais jovem, feliz, dissera que proximamente encarnaria Hamlet. Sentado em sua poltrona, melancólico, o velho mestre lembra daquele momento. Afinal, Gérard Philipe nunca pôde dizer nos palcos “Ser ou não ser, eis a questão”.
Meu pensamento, ao terminar o livro, foi porém de consolo. Afinal, o ator tão celebrado “foi”; viveu, atuou, trouxe alegrias, inquietações, indagações, certezas ao seu público. Foi o que pôde ser, no tempo de vida, tão curto, a que teve direito. O importante é o que ele trouxe a quem o conheceu ou a quem pôde vê-lo no palco e o que pode trazer ainda a quem o vê nas telas. Questões sobre a durabilidade da obra são irrelevantes. O livro trata da rápida decadência física e da morte de Gérard Philipe para, no fundo, nos falar da beleza da vida.
Continuar lendo “Gérard Philipe e a Fama” →